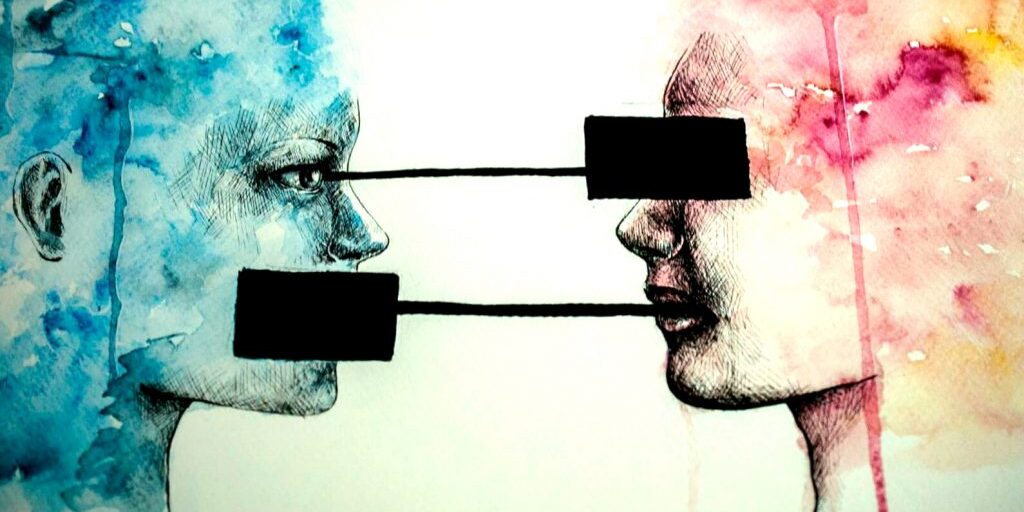No dia 14 de fevereiro a ONU Mulheres oficializou, em Nova Iorque, uma parceria com as organizações Inter-Parliamentary Union (IPU) e Equality Now com o objetivo de mudar leis discriminatórias contra as mulheres. A ação faz parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Destaco a iniciativa porque ela é fundamental para atingirmos a igualdade de gênero, já que a estimativa é que 90% dos países tenham pelo menos uma lei discriminatória em seus quadros legais. E o grande problema dessa situação é que quando a discriminação está legalizada fica muito mais difícil garantir a justiça e a igualdade para os cidadãos. Como assegurar que homens e mulheres tenham direitos e deveres iguais se as leis, que deveriam promovê-los, negam à metade da população a autonomia, o direito de ir e vir e de trabalhar?
Durante a Revolução Francesa nasceu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, justamente para frisar o que não podia ser negado a nenhum ser humano. Falhou em falar das mulheres, tanto que dois anos depois, em 1791, Olympe de Gouges propôs à Assembleia Francesa a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Um século e meio depois criamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, num esforço global de não repetir os horrores do Holocausto. Neste documento consta muito claramente que nenhum ser humano pode ser discriminado por qualquer motivo, mas infelizmente ainda não cumprimos essa regra simples mesmo 70 anos depois. E por isso todos os esforços para erradicar essa discriminação são essenciais.
O Brasil pode não proibir as mulheres de dirigir ou sair na rua, mas ao criminalizar o aborto nega a autonomia ao nosso próprio corpo (o que pode se agravar com projetos como o PL 5069), o que também acontece na Lei de Planejamento Familiar, já que precisamos de autorização do cônjuge para realizar a esterilização voluntária. E o Brasil ainda não pune o assédio em locais públicos, que já começa a ser uma tendência em alguns países. Temos políticas trabalhistas nada flexíveis com as mulheres, especialmente as mães, e uma licença-maternidade curta. A licença-paternidade, então, é de fazer rir, o que é um recado que para o Estado brasileiro quem cuida de filhos é a mãe. É o que é chamado de violência simbólica ou institucional.
É urgente mudar as legislações que permitem essas desigualdades, mas isso só acontece quando os grupos – no caso, as mulheres – têm acesso ao Poder. Ou seja, sem maior participação das mulheres na política vai ser difícil, quase impossível, assegurar o tratamento igualitário. E nesse quesito o Brasil passa muita vergonha: caímos 36 posições em dois anos e hoje somos o 154° colocado entre mais de 190 países, de acordo com ranking da IPU, uma das parceiras desta iniciativa da ONU.
O que acontece na prática é que para mudar leis discriminatórias e promover a igualdade precisamos de mais mulheres na política, mas para ter mais mulheres na política precisamos de uma sociedade mais igualitária com as mulheres. Por isso, repito, a ação da ONU é tão crucial. Ela é um esforço ativo para mudar o atual panorama de desigualdade e reforça a importância de medidas como as cotas mínimas para mulheres candidatas ou eleitas – medida adotada pelo Brasil mas que por aqui ainda funciona de fachada. Se não estamos no Poder, não temos como decidir sobre nosso próprio futuro (bandeira que as sufragistas já levantavam quando lutavam pelo direito ao voto).
A desigualdade está no nosso dia a dia, disso não há dúvidas. Não é somente alterando uma lei que mudaremos automaticamente nossa cultura e o modo que interagimos com outros seres humanos. Mas é por onde a mudança tem que começar. É a garantia mínima do Estado de que todos seus cidadãos são dignos de respeito.
Fonte : Estado de São Paulo